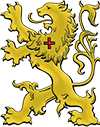Em sua concepção sacral da existência, no processo de seu pensamento e até na elaboração de uma arte de conversar, Dr. Plinio tinha como fonte de inspiração e ponto de convergência o Sagrado Coração de Jesus.
Início, expansão e morte
E isso é tão diferente nas várias espécies de vegetais, e em cada planta em particular! É diverso nos bichos e nas velocidades materiais. E também em todo o processo de pensamento e de desenvolvimento do homem.
Nesse crescer, expandir-se e morrer, Deus Nosso Senhor fez um verdadeiro jogo de maravilhas, que evidentemente as pessoas que cultuam a natureza não se dão o trabalho de apreciar. Porque isso supõe um mínimo de pensamento, de contemplação e de meditação. E esse tipo de meditação, em geral, elas não querem fazer.
Tudo isso — nas plantas, nos animais e nas velocidades materiais — é simbólico, de um modo ou de outro, do processo do homem; é simbólico da vida terrena de Nosso Senhor e da trajetória da História, do curso dos acontecimentos.
Até mesmo certas coisas que são feitas para matar e não para viver — por exemplo, uma batalha — têm seu começo, seu crescimento, depois seu murchamento, e caem. Um dos aspectos bonitos desse estudo é a questão dos recrudescimentos: quais são suas origens, que forças têm, como se faz um recrudescimento. Só o tema dos recrudescimentos daria para uma doutrina interessantíssima da Contra-Revolução.
Até os fogos de artifício podem ter uma trajetória muito bonita nesse sentido.
Um universo de belezas
Uma das coisas que eu gosto de apreciar no mar é exatamente o nascimento da onda, depois o sistema de ondas, quando elas arrebentam ou expiram na praia.
Também, a ilusória perpetuidade da calmaria… Como, dentro da calmaria, o primeiro elementozinho indica uma mudança completa das coisas que vão se acumulando. É um processo muito bonito!
Isto tudo é uma verdadeira maravilha que depois tem sua transposição para os processos políticos, para a história das instituições, das correntes de espiritualidade, etc.
Há um universo de belezas aí, que ao homem foi dado contemplar com olho rápido, furtivo e atento, porque não tem tempo para pensar nisso. Mas que é uma coisa lindíssima!
Por exemplo, há mortes que são como um Amazonas desembocando na eternidade; quase que empurra a eternidade um pouco para fora. Mas existem outras mortes como um riozinho pequenininho, humildezinho, que vai dar diretamente no mar e se perde, envergonhadinho, com um sussurro que o mar incorpora a si…
Há uma porção de coisas bonitas, interessantes, para ver dentro disso. E isso se aplica muito à história de um homem.
Por temperamento, sou muito estável e gosto das coisas estáveis, que duram na calmaria.
Não concebo o Céu num perpétuo movimento, mas com diferentes modos de ser da estabilidade. Não é a instabilidade; é a mutação dentro da estabilidade.
Processo de pensamento de Dr. Plinio
Todas as doutrinas e temas — portanto, também o conceito de sacralidade — têm um modo de se desenvolver peculiar de cada indivíduo. Em mim, essa peculiaridade é assim:
Primeiro, um nascimento cheio de intuições, de graças, ultra-alcandorado, em que entra de um modo especial uma visão confusa do ultra-maravilhoso e do ponto terminal bom, do ponto supremo, do auge; e o encantamento por esse auge.
Depois do auge bem visto, e de dar a ele tudo quanto naquele estágio da vida espiritual ele merece que se dê, então vem um período de aparente estabilidade; mas de fato é um período em que se vai “cozinhando” lentamente a explicitação.
Ao mesmo tempo — é como se dá concretamente comigo — um período de luta, em que a explicitação é ajudada possantemente pela contestação. Porque aquele conhecimento confuso, primeiro, vem acompanhado de uma implícita rejeição do que não é aquilo. E quando alguém afirma o contrário, vem a repulsa.
Na repulsa implicitamente fica mais conhecido aquilo que foi negado. E, ao mesmo tempo em que se prepara a apologética, elabora-se a explicitação. A apologética e a explicitação são fenômenos reversíveis um no outro. De maneira que eu me torno conhecedor das coisas por dois dados: por uma espécie de conaturalidade, e por uma espécie de repulsa daquilo que é contrário.
Num determinado momento, tudo o que se podia conhecer a respeito daquilo está conhecido, com os próprios recursos e com a observação concreta da vida. Aí chega a hora da leitura. Não antes.
Podem percorrer todos os livros de minha biblioteca, e encontrarão sinais disso. A leitura veio exatamente depois para ajudar esse processo, dando mais informações, fazendo com que a pessoa se situe ante o que diz o escritor e, portanto, julgue: é “sim”, é “não”, é “talvez”, é “conforme”, etc.
Depois de tudo isso feito, há mais uma vez uma nova aparente estagnação, em que todos esses elementos recolhidos são objetos de uma nova síntese. E vem uma visão final que depois cresce pouco, na aparência, mas que de fato tem muita intensidade. E prepara o ato de amor terminal.
Eu não sei se isso será assim em outros. Desconfio muito que não, e que varia muito de acordo com o caminho de Deus para cada pessoa.
A inocência é o princípio da sabedoria
Graças a Nossa Senhora, há nesse processo muita inocência. Porque não é só conhecendo a coisa em si, mas é conferindo os dados externos com a inocência. A inocência, nesse sentido, é um começar de sabedoria. Ela constitui uma espécie de ortodoxia.
O que eu disse agora, há um ano eu não teria tão claro a ponto de explicitar; neste momento estou explicitando com facilidade.
Na aparência, isso em mim se encontrava parado; mas, de fato, estava sendo preparada esta explicitação. O que indica que havia uma ação profunda — muito silenciosa, tranquila, discreta, mas não pouco ativa — para passar do último estágio de um conhecimento confuso para o conhecimento inteiramente definido.
Seria um crescimento contínuo sob a forma de estabilidade, mas na realidade trata-se de uma ação em profundidade. Mais ou menos como o desenvolvimento da árvore já crescida, que não cresce mais, mas suga da terra coisas que dão ao processo vital da árvore o meio de ir vivendo. Examinando bem, a árvore pode, durante muito tempo ainda, crescer em força e em volume por esse processo.
Então, o conhecimento da transcendência de Deus, por exemplo, depois de chegar a certo estágio, entra nessa fase de elaboração profunda, pouco perceptiva, que de repente dá um fruto muito mais sutil e melhor, que é fazer as correlações entre os conjuntos que se têm na mente, e daí nasce um determinado “unum”.
E esse é o píncaro do processo intelectual e moral. Porque esse píncaro já é a primeira nota, é a antífona do cântico que nós devemos entoar no Céu.
Procura do mundo dos possíveis
Esse é o processo de conhecimento das coisas que poderiam ou deveriam existir, algumas das quais existem. Por exemplo, quando vejo um belo castelo. Ele corresponde a ideias que todos tivemos na mente sobre um castelo inexistente. Então, minha primeira reflexão é: “Aqui está o inexistente que eu procurava!”
Muita coisa, que parece estar no mero mundo dos possíveis, existe. É questão de saber procurar. Em última análise, se fosse bem ordenado, o turismo perfeito seria uma procura pelo mundo dos possíveis que a pessoa não conheceu.
Essa procura é um pouco o que vai dando ânimo e movimentação à vida. O contrário é o tipo de velho que, no domingo, às três horas da tarde, junto com sua esposa, acabou de almoçar; ele está bem satisfeito e ela está aliviada porque o marido almoçou bem e gostou da refeição. Ele se senta numa cadeira e fica ruminando, com desapontamento, porque ele acha que não há mais possíveis.
Propriamente, a substância dessa velhice mal concebida é crer pouco nos meramente possíveis do Céu, e achar que na Terra não adianta conhecê-los, porque já se viu que todas essas coisas fanam. Então o velho fica sentado na cadeira, ruminando sua bronquite. Essa é a substância desse conceito de velhice.
Antigamente, como a senhora — de modo habitual, não necessariamente — era melhor do que o homem, ela ficava pensando um pouquinho no Céu e nas saudades do tempo que se foi.
O homem, pouco sujeito a saudades, não pensava no Céu, mas de vez em quando o relâmpago do Inferno lhe aparecia pela mente. E isso o levava a fazer a sua Confissão e Comunhão pascais. Assim era a velhice.
Havia uma casa — creio que não existe mais — na esquina da Rua Imaculada Conceição com a Rua Martim Francisco(1). Eu percebia, pela conformação do prédio, que existiam muitos quartos de dormir vazios; donde se deduz terem morado filhos ali, que depois tinham se mudado, e o casal residia sozinho.
Eu, então, imaginava o velho e a velha possível no nível daquela residência, que era uma casa mediana. Esse velho e essa velha eu os construía de vários velhos e velhas que tinha conhecido.
Como a ideia da Contra-Revolução foi elaborada no espírito de Dr. Plinio
Estou explicitando agora. Mas a explicitação é fruto de um trabalho lento, que a mim me dá a impressão de que não estou trabalhando, mas simplesmente vivendo. Eu diria que parei. Mas, de repente, saio com uma enxurrada de coisas que, assim, nunca pensei. É o lento trabalho terminal que deve aprontar na mente.
A Contra-Revolução, considerada no seu conjunto, teve exatamente esse papel no meu espírito.
Primeiro formei impressões, observei fatos, tomei conhecimento pela leitura de alguns tantos acontecimentos históricos, e também conheci muito pelas narrações, mais ou menos à Alexandre Dumas, que circulavam no ambiente familiar, a respeito desse ou daquele caso.
Por exemplo, Maria Antonieta. Na minha geração, o preconceito contra Maria Antonieta era uma coisa atroz: “Mulher dura, má, traidora, favorecia os austríacos! De uma beleza esplendorosa — era vista assim — que fazia com que todas as mulheres feias ficassem complexadas, pensando nela!”
Mas contavam que o povo faminto chegou a Versailles, e ela estava tão alheia às verdadeiras necessidades do povo que disse: “Então, se vocês não têm pão, comam brioche”. E ela nem sabia bem que brioche era mais caro que o pão; porque problema de dinheiro não existia para ela. Então deu um conselho que provava — assim diziam — como ela vivia alheia ao sofrimento do povo.
Eu me lembro de, ainda pequeno, perguntando para Dona Lucilia:
— Mas, mamãe, o que é brioche?
— Uns bolinhos excelentes.
Não cheguei a me perguntar por que ela não fazia brioche para eu comer. Até lá a gula não chegou… Mas vejam a provação para uma criança que ainda não sabe o que é brioche:
“Então as pessoas bonitas, alinhadas, estiladas, superiores não têm coração porque seguem demais regras e se endurecem com essas regras? Por que seguir a regra endurece e cega para a compaixão com os que não conseguiram seguir a regra? Então, seguir as regras é mau?”
Minha resposta interior:
“Não pode ser. Porque entre bem e bem não pode haver incompatibilidade.”
A doutrina não é o ponto de partida, mas o de chegada
A importância que dou ao raciocínio faz com que eu não considere nada por acabado se não foi raciocinado. Porque todo esse processo de intuição tem que chegar a raciocínios que provem ou não provem aquilo que foi antes intuído, apalpado, pressentido.
Podem, então, imaginar o meu encantamento lendo o “Tratado de Direito Natural”, de Taparelli d’Azeglio, o “Tratado de Sociologia Católica”, de Albéric Belliot, um franciscano; enfim, uma flotilha de coisas que eu li e me provaram, por exemplo, a legitimidade do direito de propriedade, que era uma coisa instintiva, mas cuja legitimidade eu apanhei aí.
Quando vi que o direito de propriedade, a instituição da família, a indissolubilidade do vínculo matrimonial, a autoridade paterna — cuja liceidade era intuída por mim — se baseavam num raciocínio claro, límpido, perfeito, tive um entusiasmo enorme!
Isso deu ao meu pensamento uma estrutura que veio depois de mil apalpações.
Essa é uma característica do meu espírito: não começar por ler a doutrina, mas por pegar a realidade. Depois de ter intuído na realidade, ir ver a doutrina. E aí ter um contentamento, um gáudio enorme.
Estou longe de ser daqueles que julgam dever prescindir da doutrina, mas a questão é que para muitos a doutrina é o ponto de partida, e na conformação do meu espírito é o ponto de chegada.
Todas essas coisas com o tempo acabam formando um depósito primeiro de impressões maturadas, para raciocinar. E enquanto já vou raciocinando algumas de minhas impressões, continuo a maturar ou explicitar outras. Então, nós poderíamos dizer que esse processo é:
Primeiro: observar, captando e classificando subconscientemente.
Segundo: estabelecendo oposições, e começando por aí a explicitação.
Terceiro: fazer os primeiros raciocínios que constituem pontas de trilho para que, daí para diante, em contato com qualquer coisa nova o processo inteiro vai se movendo.
Concepção sacral da vida
Isso forma inclusive o progresso na vida espiritual.
Por exemplo, a noção de sacralidade, no começo, é muito mais vívida em relação à Igreja. Depois menos em referência à autoridade paterna dentro da família como entidade toda ela sacral, num certo sentido especial da palavra “sacral”. E também em relação ao mito monárquico dentro do Estado, que pode ser sacral se o indivíduo quiser vê-lo assim, oferecê-lo à Igreja e pedir as bênçãos dela a fim de sacralizá-lo.
Isso acaba dando lugar a uma noção de sacralidade adequada às coisas temporais, que é um desdobramento da noção do sacral — própria das coisas estritamente espirituais e sobrenaturais — e formando no espírito vários degraus e modos de ser da sacralidade, cujo auge sempre me pareceu como sendo a Consagração durante a Missa, mais do que a minha Comunhão.
Agora, uma coisa que é pessoal: sou mais sensível à sacralidade do ato da Consagração, enquanto considerado na Consagração do vinho e a apresentação do cálice para o povo adorar, do que na Consagração do pão e a apresentação para ser adorado.
Eu tinha a impressão — que soube, depois, não corresponder à realidade — de que a transubstanciação se dava no momento da elevação. E daí aquele respeito e aquela veneração! Porque nos fiéis há um redobrar de respeito e veneração, quando o Santíssimo é elevado. Compreende-se, porque é exposto para eles adorarem, então fazerem um ato interior que corresponde a essa exposição. Mas eu achava que era porque a transubstanciação estava se dando naquele momento.
A forma material do cálice é tão evocativa do que é o oferecimento da sacralidade! Uma alma que se oferece, ou oferece alguma coisa de dentro de si, é tão bem representada por um cálice que se abre e que dá tudo o que tem! Por outro lado, o vinho é tão mais parecido com o sangue, do que o pão o é com o corpo, que tudo isso me dava mais sensação — puramente física e analógica — de sacralidade.
A simples presença do Santíssimo Sacramento exposto me dava uma sensação de sacralidade colossal. Muito mais do que o Santíssimo guardado na capela-mor. Poder chegar perto d’Ele, adorá-Lo, produz em mim impressões de sacralidade que eu acho que possuem qualquer coisa de místico, muito maiores do que as que se têm em contato com a sociedade temporal.
Mas por esse progresso de alma de que estou falando, a pessoa vai compreendendo que em formas, termos e modos diferentes, a sociedade temporal inteira acaba tendo qualquer coisa de sacral. E, então, uma concepção toda ela sacral da vida vai se maturando lentamente, ao longo das décadas, para depois fazer uma conferição com os autores especializados.
Porque a palavra definitiva é deles. Eles representam a Igreja, que é infalível e, portanto, vamos ouvir o que a Santa Mãe Igreja ensina a esse respeito. E ensina, na força da palavra “ensinar”: quer dizer, ela é a Mestra infalível, eu sou o aluno bobo que posso ter feito um engano, e apresento a ela aquilo que pensei.
No princípio não estava o livro, mas o pensamento
É um processo que, em certo momento, entra numa aparente estagnação, e continua a elaboração em profundidade. De maneira que quem me conhece há muito tempo, é possível que tenha tido ideia de que em algumas coisas eu estou me repetindo indefinidamente. Mas se forem examinar de perto notarão que tem sempre alguma coisinha nova, que corresponde em profundidade a esse processo lento.
Mas isso levanta um problema: Esse não é — em suas linhas gerais, não nos seus pormenores — o próprio método de pensar legítimo do espírito humano?
Vamos formular a coisa assim: O primeiro livro foi escrito por um homem que não teve livros. Então, a cultura nasceu de um pensamento anterior ao livro. Logo, no processo intelectual, no princípio não estava o livro, mas o pensamento.
Então, eu volto ao ponto de partida.
O “unum” é o Sagrado Coração de Jesus, de uma majestade infinita, doçura infinita, sabedoria infinita, de um poder infinito e de uma bondade infinita; para dizer só alguns atributos. Tudo isso é uma síntese para chegar até Ele, compreendê-Lo.
A teoria geral das várias formas de crescimento, de desenvolvimento, que apresentei no começo da reunião, parece não ter relação alguma com Ele. Mas, no fundo, é a Ele que visamos. Ele é o alfa e o ômega; o “unum” é Ele! Ele é o começo e o fim de tudo. E se de algum modo todas essas reflexões não visassem o melhor conhecimento d’Ele, não teriam valor.
Numa conversa os espíritos vão evoluindo juntos, como num dueto musical
Em toda essa teoria, a conversa tem um papel enorme, porque ela, no fundo, requer certo discernimento dos espíritos e uma percepção do que convém ou não ser dito. Quando não convém, deve-se ter o suficiente desapego para não tratar.
Muita gente conversa sobre aquilo que tem vontade de conversar. Isso é a morte da conversação. A conversa boa nem é sobre aquilo que tenho, ou meu interlocutor tem, vontade de conversar; mas sim tratar daquilo em que nós dois podemos igualmente gostar de conversar. O resto é a morte da conversação.
À medida que uma conversa está bem travada, os espíritos vão evoluindo juntos, como num dueto musical. E quando se entendem bem, vão mudando de tema igualmente, muito mais por apetências do que por nexos lógicos. Entra em algo o nexo lógico, mas são nexos psicológicos, mudanças de temas vizinhos, que vão fazendo com que as duas pessoas gostem das mesmas coisas. Então a conversa aí se torna deliciosa.
É mais ou menos como, por exemplo, duas pessoas que passeiam juntas no centro de Roma, a caminho das catacumbas. Passam por uma loja qualquer que tem gravatas bonitas; os dois estão precisando comprar gravatas; param, olham, gostam, conversam. Depois transitam em frente a uma confeitaria, e comem algum doce. E assim chegam à catacumba.
A conversa só pega mesmo — ao menos é a impressão que eu tenho — quando na pontinha do que está sendo conversado há qualquer coisa que é uma graça de Deus, sobre alguma coisa de transcendente, maravilhoso, que, por uma pontinha de consolação sensível, ambos estão sentindo.
Pode ser o “unum” ou não. Pode ser uma consolação, que todos têm juntos, sobre um ponto que Nossa Senhora quer glorificar. Então, a conversa em geral tem um fundinho comum de supremo. E quanto mais esse fundinho é sentido por todos, mais a conversa é animada.
Donde se tira uma conclusão linda: o principal interlocutor é o Interlocutor Divino, presente em nossa conversa, falando dentro das nossas almas e elogiando-se a Si próprio por nossos lábios.
A conversa, em sua natureza, tem algo de uma prece
Isso dá uma elevação ao conceito de conversa, em que Deus está sempre presente; não só — e já é muito! — através da Fé, mas também, no fundo, por alguma coisa comunicada diretamente pela graça, que se torna sensível e causa alegria. Esse é o sal da conversa, e que a Providência dá quando quer. É certa forma de sensível. Não é uma mera troca de ideias teórica, mas algo que vai mais alto.
Eu volto a dizer: pasma, mas é fato, o Divino Interlocutor é propriamente Aquele que fala. Ele fala pela boca de um, responde pela boca de outro e Se alegra pelo coração de todos. É uma coisa muito bonita!
Pode-se dar um fato parecido com esse, na ordem meramente natural. O exemplo mais característico disso é este: quando se está muito longe do país em que se nasceu, e vários co-nacionais se encontram inesperadamente em algum lugar, sai uma conversa animada.
O que há no gáudio de, por exemplo, vários brasileiros se encontrarem na Tailândia, inesperadamente, formarem uma conversa animada e serem capazes até de ir almoçar juntos?
Há um fato natural meio parecido com o sobrenatural — porque há muita analogia entre certos fenômenos naturais e outros sobrenaturais —, que é um ponto comum da alma do brasileiro e do ambiente do Brasil; o brasileiro, que se sente muito isolado quando está na Tailândia sem ter com quem conversar, quando encontra outros com o mesmo ponto comum, aquilo aflora com uma veemência extraordinária, e faz na conversação o papel natural, semelhante ao que a graça opera no tipo de conversa de que falávamos.
Outra coisa se dá quando alguns dos interlocutores, por serem bons católicos, são objetos de uma graça por onde os demais podem ficar deslumbrados. Isso pode ocorrer até no relacionamento entre um jovenzinho e seus colegas.
O que se passou nesse caso? É algo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Nossa Senhora enquanto canal necessário do Redentor, porque foi dita alguma coisa da Doutrina Católica, ou qualquer outra matéria por onde eles percebem, por um discernimento de espíritos que lhes foi dado no momento alguma coisa de maravilhoso e de celeste.
E isso pode determinar dois rumos diferentes: a conversão dos que estão ouvindo ou a perversão de quem está falando. Porque este fica sujeito ao seguinte raciocínio: “Aqui me compreendem mais do que nos meios católicos que frequento. Portanto, vou frequentar mais este ambiente porque aqui faço apostolado…” Mas, de fato, ele vai se atolando naquele ambiente mundano.
A conversa, em sua natureza, tem algo de uma prece. Quando está presente esse lado sobrenatural, é uma oração, uma coletiva elevação da mente a Deus.
Porém naqueles salões do período do “Ancien Régime”(2) — era uma coisa medonha! — havia uma graça propriamente sobrenatural, católica, de caridade fraterna, que dava na “douceur de vivre”(3), manifestamente presente lá, misturada com a frivolidade mais escandalosa e com a irreligião categórica.
Desde que o Divino Interlocutor esteja presente, a conversa é o verdadeiro prazer da vida
Uma pessoa frívola costumava dizer, na minha presença, que o verdadeiro prazer da vida era uma boa conversa. Também acho que conversar, desde que o Divino Interlocutor esteja presente, é o gosto da vida. E nenhuma outra coisa tem o valor da conversa.
E daí entra outro tema que quase justificaria uma conversa: não é compreensível a felicidade do Céu se não se admite o que estamos dizendo. Aquele co-louvor no Céu é uma conversa sumamente bem-aventurada, porque o Divino Interlocutor está presente, dando uma animação incomparável ao que dizem a respeito d’Ele, de si próprios, da História e do universo — sempre com vistas a Ele — todos os que estão ali participando.
Mesmo assim, é preciso tomar em consideração que o modo de ser apresentado o Céu por certas escolas espirituais deturpa-o e torna-o menos apetecível. Tenho a impressão — que é quase uma certeza, mas se a Igreja ensinar o contrário, no mesmo instante mudo de opinião — de que no Paraíso cada bem-aventurado conserva todas as características legítimas que teve na Terra.
E, no Céu, é interessante o fato de almas com personalidades tão diferentes estarem todas unidas na conversa, na interlocução a mais agradável, a mais amável, a mais nobre, a mais gentil, a mais elevada, a mais distinta, a mais recolhida e ao mesmo tempo a mais pseudo-dissipada que se possa imaginar.
De maneira que cada um ama muito que o outro seja de outro modo, e todos sentem as respectivas harmonias. E a presença de Deus se tornando continuamente sensível, conhecida e apreciável a todos, e sendo Ele, no fundo, o Divino Interlocutor dentro da alma de todos, há um tipo de conversa que é do gênero das conversações abençoadas aqui na Terra, mas com qualquer coisa que vai infinitamente além.
A conversa no Céu será como uma contínua oração
E aí compreendemos todo o gáudio que o Céu pode trazer, a partir do primado da conversa sobre todos os outros prazeres.
É uma coisa que nos é dada de vez em quando na Terra, um pouquinho, e que nos deixa fora de nós de contentamento. E no Céu nos é concedida contínua e plenamente, e com uma intensidade inimaginável. Donde a felicidade celeste.
Considerem as almas que certos estilos artísticos pintam como estando no Céu, todas elas têm a mesma personalidade, as mesmas características, e o co-louvor perde o sabor. Fica meio inimaginável um Céu saboroso.
Porém, imaginar que no Paraíso se está conversando, por exemplo, com um grande historiador e vemos São Tomás de Aquino que está passando, e lhe perguntamos:
— São Tomás, o que dizeis sobre este assunto?
Ele para extasiado, fica contente e responde com aquela simplicidade que lhe é característica:
— Olhe aqui, isso é assim…
Grande alegria! Ele passa, e ainda durante algum “tempo” — para usar nossa linguagem aqui da Terra — aqueles a quem ele ensinou ficam contentes por causa disso.
No “fim” do “dia” vão levar de presente para ele uma pedra linda que encontraram no Céu empíreo. Ele pega-a, fica encantado, e faz uma reflexão ultra-substanciosa sobre aquilo…
É a vida do Céu, vista com base na conversa tida como uma oração.
A conversa é uma coisa continuamente móvel. E como as perfeições de Deus são infinitas — Deus é insondável! — Ele é para nós, no fim de milhões, de trilhões de anos, tão novo como no primeiro instante.
Além disso, há o Céu empíreo, onde suponho que é dado ao homem fazer obras de arte, construir, organizar, arranjar, etc., e assim ter o gosto de realizar. Eu não acredito que um contemplativo tenha um verdadeiro gosto de contemplação se não tiver também o gosto da contemplação transformada em obra e deixada para outros.
Nesse sentido, por exemplo, quando li pela primeira vez aquelas palavras de São Paulo: “Combati o bom combate, etc.”(4), que ele pronunciou próximo da hora de morrer, aquilo me pareceu a morte por excelência, magnífica: “Eu pensei, eu fiz, eu deixei!” Quer dizer: “Aqui está!” E o ter feito é uma grande coisa.
Carlos Magno morrendo com a consciência de que ele fez um império, que coisa magnífica!
Bem, tivemos uma ótima conversa. Assim foi, porque o Interlocutor Divino estava presente.
Plinio Corrêa de Oliveira (Extraído de conferência de 19/4/1989)
Revista Dr Plinio 207 (Junho de 2015)
1) Em São Paulo, bairro Santa Cecília.
2) Do francês: Antigo Regime. Sistema social e político aristocrático em vigor na França entre os séculos XVI e XVIII.
3) Do francês: doçura de viver.
4) Cf. 2Tm 4, 7.