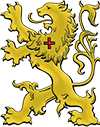Nas Reuniões do MNF (sigla para “Manifesto”), realizadas três vezes por semana para um seleto grupo de participantes, Dr. Plinio se dedicava a explicitar, concatenar e respaldar na doutrina católica pontos de Teologia, Filosofia, Sociologia, Psicologia, etc., nascidos de suas reflexões e de sua observação da realidade. Esta longa série de reuniões se iniciou na década de 50, e sua finalidade era elaborar um Manifesto que salientasse a doutrina católica nos pontos específicos em que a Revolução investia contra a Igreja e a Civilização Cristã. Se ¨Revolução e Contra-evolução” era um esquema dessa Revolução, o ¨MNF” seria uma detalhada descrição e refutação, mas sobretudo uma afirmação destemida dos princípios negados por ela. Numa reunião de 1965, cujos excertos principais estampamos a seguir, Dr. Plinio descreveu um dos impactos da catequese que, uma vez ordenado e divulgado, esse Manifesto produziria: dar ao homem atual o gosto da consideração de Deus e dos bens espirituais, como fórmula para uma autêntica felicidade nesta Terra e antecipação do gáudio que terá na visão beatífica.
Quando publicado, o MNF mostrará entre outras coisas essenciais que o mundo moderno se esqueceu de que a natureza humana pede uma felicidade espiritual mais do que material, e mais extraterrena que terrena.
Quer dizer, se me ponho a analisar toda a sede de felicidade existente em meu ser, percebo que ela é total, perpétua, absoluta, sem qualquer possibilidade de alguma vez acabar. Sede essa que, bem sentida, refere-se mais ao espírito do que ao físico: posso querer a felicidade para o meu corpo, sem dúvida, mas desejo uma alegria imensamente maior para a minha alma.
A civilização moderna negou essa verdade, amortecendo a noção do prazer do espírito, enquanto acentuou a ideia do gáudio material. De maneira que, para o mundo de hoje, uma vez organizado o bem-estar temporal, assegurado pela técnica o atendimento razoável das necessidades do corpo e, sobretudo, obtida pela medicina a longevidade que um belo dia elimine a imagem da morte, ter-se-á alcançado nesta vida o que ela pode nos oferecer de melhor.
Exemplos de felicidade espiritual
Ora, quando observamos a nossa existência, notamos situações fugazes em que temos momentos de felicidade de alma rápidos, transitórios, mas que, considerados enquanto tais, dão-nos um júbilo muito mais autêntico do que o desfrutado pelo corpo.
Assim, por exemplo, não há quem não tenha experimentado um movimento de felicidade espiritual e de consola-Nas Reuniões do MNF (sigla para “Manifesto”), realizadas três vezes por semana para um seleto grupo de participantes, Dr. Plinio se dedicava a explicitar, concatenar e respaldar na doutrina católica pontos de Teologia, Filosofia, Sociologia, Psicologia, etc., nascidos de suas reflexões e de sua observação da realidade. Esta longa série de reuniões se iniciou na década de 50, e sua finalidade era elaborar um Manifesto que salientasse a doutrina católica nos pontos específicos em que a Revolução investia contra a Igreja e a Civilização Cristã. Se ¨Revolução e Contra-Revolução” era um esquema dessa Revolução, o ¨MNF” seria uma detalhada descrição e refutação, mas sobretudo uma afirmação destemida dos princípios negados por ela.
Numa reunião de 1965, cujos excertos principais estampamos a seguir, Dr. Plinio descreveu um dos impactos da catequese que, uma vez ordenado e divulgado, esse Manifesto produziria: dar ao homem atual o gosto da consideração de Deus e dos bens espirituais, como fórmula para uma autêntica felicidade nesta Terra e antecipação do gáudio que terá na visão beatífica. Ação religiosa por ocasião de alguma comunhão. Pode ser apenas um instante. Porém, analisada a felicidade que este instante proporciona, chega-se à conclusão de que ela vale incomparavelmente mais do que todas as felicidades materiais.
Como esse, existem outros momentos de semelhante satisfação. Quando alguém termina uma grande tarefa e se sente dignificado por realizá-la, tem fugazmente um movimento interno de alegria muito maior do que a produzida por estar guiando um automóvel.
No momento em que enfrentamos um problema muito complicado para resolver e encontramos finalmente a solução, o êxito nos causa um movimento de alegria muito superior àquele que sentimos ao saborear um bom prato.
Ou no momento em que estabelecemos uma comunicação afetiva com alguém, vendo-nos estimados e amparados por essa pessoa a quem retribuímos o carinho, experimentamos um momento de felicidade de alma imensamente maior que a do corpo. É verdade que esses momentos na existência são fugazes, mas servem para nos provar a superioridade da felicidade espiritual, e para nos fazer sentir como, no fundo, a única coisa que nos contentaria seria se pudéssemos ter uma alegria assim permanente, eterna, imutável, perfeita.
A grande lição do universo
Essa primazia do gáudio espiritual nos é sugerida pela própria ordem disposta por Deus na criação.
Com efeito, no universo formado pela onipotência divina não era conveniente que houvesse apenas uma criatura, pois, sozinha, nunca espelharia o Altíssimo suficientemente. Porém, o conjunto das criaturas, cada qual boa e bela a seu modo, acaba originando uma ideia da bondade e da beleza infinitas de Deus. Donde o universo inteiro ser composto de pequenos “universos” de bondade e de beleza que se complementam, formando um todo imenso no qual temos uma noção global daquelas perfeições divinas. Podemos dizer, portanto, que o universo é uma grande lição, em virtude dessa admirável ordem em que Deus dispôs as criaturas umas em relação às outras.
E essa lição leva o homem a perceber sempre o significado espiritual daquilo que o cerca, e o faz desejar conhecer e admirar esse significado, eternamente, no Céu. Como o leva, outrossim, a compreender que o secundário nesta vida é o lado material, e que este deve ser tratado conforme a sua importância menor.
Aceitas essas verdades, ou se tem uma ordem social constituída de maneira a que certos princípios superiores do espírito fiquem inteiramente claros e evidentes, conduzindo o homem à procura de um bem maior, ou necessariamente a sociedade ruma para os princípios opostos, e se entra num mundo todo ele desorganizado, onde as crises se acumulam umas sobre as outras, até chegarmos ao caos, e mesmo à completa loucura.
Favorecem essa decadência as formas de cultura, de arte e de civilização que negam os princípios valiosos do espírito, e apresentam as realidades externas e materiais de um modo oposto a eles. Então não produzem o prazer de admirar as coisas superiores, atenuam a alegria autêntica que se pode ter nesta vida, ou até geram desprazer. São formas de civilização, de cultura e de arte ateias, materialistas, que conduzem o homem para o desespero, para a catástrofe, para o ateísmo, para o “non sense”.
São o contrário da formação católica que parte exatamente da concepção daquela ordem estabelecida por Deus no universo, a qual se reflete nos mais variados aspectos da sociedade bem constituída: no estilo de um móvel, no desenho de um armário, no modo de andar de uma rainha, na inflexão de um cântico, na maneira de dispor as árvores na alameda de um parque, ou no “cozy”(¹) de uma casa operária…
Um poema filosófico
Se o homem se dedica a essa consideração das coisas enquanto ordenadas a Deus, ele encontra já nesta vida a única forma perene de alegria que ela lhe é capaz de oferecer. Uma pessoa que sofra de câncer, que padeça os mais horríveis tormentos, ainda achará nessa consideração uma felicidade estável que nada lhe pode tirar. É uma satisfação que transcende a todas as outras proporcionadas pelas coisas práticas e terrenas. É a alegria de espírito.
E se uma pessoa tem a alma assim disposta, ela possui uma facilidade imensa em compreender a ressurreição dos mortos, em aceitar a existência de um outro mundo onde as coisas correspondem os seus melhores desejos. Ela adquire um feitio religioso natural. Quer dizer, numa sociedade construída sobre esse alicerce, a religião católica é abraçada sem dificuldades.
Mas, eliminando-se a concepção autêntica de felicidade, corta-se na raiz o gosto pela religião. Esta passa a ser opaca, distante, enfadonha, penosa de se seguir. Então, para condensar essas minhas reflexões, exatamente na hora em que a existência terrena se torna em muitos de seus aspectos louca e incompreensível, eu gostaria de dar no MNF uma espécie de poema filosófico da compreensibilidade do mundo e da vida sob o ponto de vista da felicidade espiritual.
Uma catequese de impacto oportuníssimo
Nesse sentido, cabe uma censura às maneiras de expor a religião que a tornam pouco ou nada aceitável, pois ela não aparece como uma fórmula para organizar uma vida feliz. Costuma-se dizer: “Você aqui será desditoso, mas no Céu receberá o seu quinhão”. Essa afirmação não exprime a verdade inteira, pois seria um disparate que esta vida não trouxesse um sério prenúncio da superior alegria que nos aguarda na outra. Ademais, o grande São Tomás de Aquino nos ensina formalmente que, para sobreviver, é necessário ao homem uma certa base de felicidade.
O lamentável resultado dessa apresentação incompleta da religião católica é este: as pessoas, pensando que ela não traz a felicidade, correm para os prazeres ilícitos. Cumpre, então, insistir na existência de uma alegria de caráter sobrenatural, espiritual, realizável neste mundo, a qual consiste em compreender a Deus, o universo, a Igreja, o quanto nos seja possível, apetecendo-os com toda a força de nossa alma, e já sentindo o antegosto da vida eterna na Terra.
Quer dizer, vista assim, a religião católica é percebida como a solução de um caso pessoal. De outro modo, não há catequese, nem doutrina, nem pastoral, não há nada que “pegue”. É preciso vê-la resolvendo o problema que começa no interior de cada indivíduo, conduzindo-o a desejar, conhecer e aceitar os princípios verdadeiros, sentir dentro de si a veracidade desses princípios e a rejeitar os opostos.
Então deveríamos dizer àqueles aos quais queremos atingir com nosso apostolado: “Estão vendo o que é o prazer do espírito? Compreendem como esse prazer é, de certa maneira, completo? Como ele faz um bem para a alma muito maior do que qualquer outro benefício material e prático? Agora, percebam que miséria é o homem sem esta noção, e como ela, pelo contrário, o cura.
Pois bem, imaginem se essa felicidade que sentem com isso fosse eterna, imutável, infinitamente maior — o que aconteceria?”
A vocação nasce sempre como uma espécie de vivência desse prazer do espírito no considerar as coisas criadas. Ela sempre cresce quando o indivíduo é fiel ao prazer do espírito que caraterizava Jacó, e fenece quando a pessoa de deixa atrair, como aconteceu com Esaú, pelas coisas materiais.
Creio que se Nossa Senhora nos ajudar a levar a cabo essa tarefa apostólica, ela significaria dar uma alta formulação do dom da sabedoria. Ela explica tão a fundo o problema da vida humana — no preciso momento em que a ideia da existência baseada nos prazeres do corpo fracassa — que, a meu ver, seria uma catequese de um imenso e oportuníssimo impacto!
1 – Palavra inglesa que sugere algo de uma elegância simples e aconchegante.
Plinio Corrêa de Oliveira
Revista Dr Plinio 65 (Agosto de 2003)